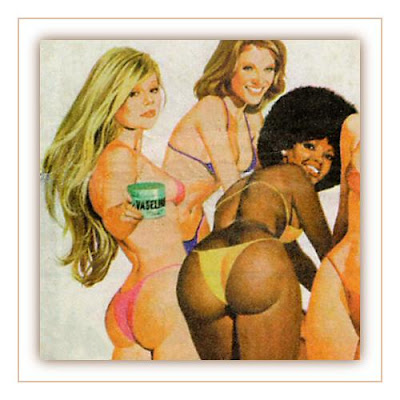Três por Quatro da
Geração Coca-Zero
Me identifico muito com essa crônica do João Ubaldo Ribeiro, publicada aí embaixo. Também tenho a cara errada. Senti isso de maneira mais contundente quando estive em Paris e, caminhando pelo metrô, fui medido de cima a baixo por um senhor bem vestido, que logo depois comentou com a esposa, no melhor português com sotaque baiano: "Vamos pegar outro vagão que esse sujeito aí tem a maior cara de terrorista". Isso sem contar as passagens pelas sucessivas alfândegas: apesar de ser uma cruza improvável de alemão, português, espanhol e índio paraguaio, não é raro me atribuírem ascendência árabe. Cara de escritor, então, nem se fala. A coisa que mais ouvi em São Paulo, quando lancei por lá o meu livro nos idos de 2004, foi "você não se parece com as coisas que você escreve" - uns oito ou nove viados com cara de mau me disseram a mesma coisa. Sim, porque pra essa corriola um escritor tem que ter "cara" - e, de preferência, uma "cara maldita", seja lá o que isso signifique. Conheci meia dúzia de "escritores" que só tinham isso - a cara - e fazem até hoje muito sucesso por baladas, feiras e antologias. Também rio muito e falo muita bobagem em mesa de bar - e "mostrar muito os dentes" (a não ser, talvez, pra rosnar) é outra coisa que não pega bem em certas rodas literárias. Há que se ter "postura", "estilo" (no sentido fashion do termo), espírito marketeiro e muito saco pra encarar esse ossobuco, coisa que - por motivos que englobam genética e senso do ridículo - definitivamente eu não tenho. A alternativa seria dar a bunda, tatuar a cara, virar redator em alguma agência de publicidade ou arranjar uma biografia exótica, que envolva empregos de go-go boy em Cingapura e orgias com pigmeus besuntados em óleo de peroba nos mais ermos confins da Botsuana. Dispenso. Meu tempo já tinha passado décadas antes de eu nascer. E reconheço que tudo isso, na época, até teve seu lado divertido. Talvez a idade venha me presentear com "a cara das coisas que escrevo" e, desse jeito, me prepare pro futuro. Pois prevejo o dia em que irão lançar uma BookTV e o vídeo-clip do cidadão lendo sua obra (autobiográfica e em primeira pessoa) será muito mais importante do que sua verborragia rimada e impregnada de referências pop. Loucurinhas e idiossincrasias da Geração Coca-Zero.
*
João Ubaldo Ribeiro:
A Cara Errada
 |
| João Ubaldo por Mário Alberto |
Mesmo quem nunca encontrou problemas por ter a cara errada talvez se veja comiserado pelos sucessos que ora passo a narrar. Eu tenho a cara errada e já me resignei ao destino ao qual por ela sou condenado, esperando apenas conseguir que minha experiência se revele útil a algum eventual leitor, que talvez até padeça de problema análogo sem saber. Evidentemente, meu primeiro problema é não ter cara de escritor e, muitíssimo menos, de intelectual — esta última nem pensar. Cara de escritor é, por exemplo, a cara de José de Alencar, que morreu menos velho do que hoje sou, mas sempre ostentou uma venerável cara de escritor. Assim como ele, vários escritores contemporâneos meus, creio mesmo que a maior parte, têm a cara certa. No máximo, posso ser acatado como um ex-zagueirão reserva do Olaria dos velhos tempos ou um coroa exibido, que não tem pejo de curtir sua aposentadoria como auxiliar de escrivão de um cartório hoje extinto, pegando umas merrecas do INSS e bebendo cerveja junto a similares, no carteado da pracinha em frente ao boteco. Certa feita, em Salvador, eu era esperado para fazer uma conferência, compareci e fui barrado. Fiquei esperando na porta, até que o professor que dirigia os trabalhos achou que eu não ia aparecer e começou a pedir desculpas à platéia apinhada, e aí eu gritei de fora que não tinha faltado ao compromisso, tinha simplesmente sido barrado pela moça que controlava a entrada e, depois que eu disse que não portava o cartão que me daria direito a ingressar, me endereçara um sorriso de desdém, ao me ouvir dizer que o conferencista era eu.
Não os entupirei de episódios tediosos, mas dou alguns, à guisa de ilustração. Na Alemanha, tenho cara de turco. Na França, tenho cara de argelino mestiçado. Nos Estados Unidos, tenho todas as caras possíveis — turco, árabe, cucaracha, crioulo disfarçado ou hispano, termo este aplicado a todos os de fala latina que não francês, italiano, ou línguas igualmente nobres. Nem cara de português, minha verdadeira ascendência, eu tenho, como me comprovaram dezenas de vezes, de tascas a táxis, em paragens lusitanas. Adicione-se a isso a circunstância de que, mesmo envergando um terno feito sob medida por um alfaiate inglês, coisa, aliás, que nunca fiz, não só porque não tenho dinheiro para pagar nem o alfaiate do Olaria dos bons tempos, quanto mais inglês, como porque nunca fui um exemplo de elegância e assumo a aparência andrajosa que me acompanha, qual maldição de fada má ao berço, desde que me entendo, cinco minutos depois de vestir a melhor roupa possível.
Na semana que ontem se findou, andei, seguindo minha inelutável sina, eis que detesto viajar e vivo viajando, pelos Estados Unidos, a cuja capital fui convidado pelo Kennedy Center, em Washington, para uma irrecusável homenagem ao meu absolutamente insubstituível amigo Jorge Amado, que me fará falta até o dia em que eu mesmo for embora. Não posso, sem mentir ou exagerar, alegar que fui vítima de maus-tratos, a não ser, levemente, no Antônio Carlos Jobim, por uma funcionária brasileira da companhia americana que me transportou e que acreditava ser americana e ter cara de irmã de Mike Jordan — ela que vá lá e encare essa, para ver o que é bom para a tosse.
Mas recebi todo o tratamento a que minha cara dá direito. Meu consolo é que, agora de volta ao Leblon, é que me sinto — como direi? — meio desinfetado. Viajei via Atlanta, de onde faria transbordo para Washington e, apesar de minha bagagem haver sido despachada diretamente para meu porto de chegada, tive que retirá-la, para, depois de nova inspeção, redespachá-la a Washington. Estava esperando, diante daquela esteira rolante onde a mala da gente é sempre a última a aparecer, quando um jovem surgiu diante de mim levando um cachorrinho beagle pela coleira, me pediu gentilmente que me afastasse um pouco dos outros passageiros e falou com ele:
— Cheire, Snoopy, cheire!
Um pouco desacostumado a ser cheirado tão flagrantemente, ainda mais da forma pouco elegante com que Snoopy o fazia, fiquei um pouco sem graça e com medo de que ele discordasse de meu desodorante, mas não houve nada de mais assustador além do tempo eletrizante que o adorável cãozinho levou cheirando minha sacola e partes de meu corpo que prefiro esquecer, após o que se afastou desdenhosamente, me deixando aliviado, mas um tanto ofendido pelo desprezo com que avaliou meus cheiros e partiu para cheirar mais uns terceiro-mundistas que se encontravam nas vizinhanças.
Inspecionado e interrogado aqui no Brasil, devidamente cheirado por Snoopy e passado por diversas barreiras, achei que já estava livre de novas suspeitas, mas a cara me traiu novamente. Enquanto eu esperava na fila para entregar meu cartão de embarque Atlanta/Washington, um senhor uniformizado dirigiu um olhar avaliador à dita fila, olhou para mim e me solicitou gentilmente que fosse até um canto, não propriamente reservado, onde me obrigou, sempre muito cortesmente, a praticamente ficar de cueca. Não, exagero meu, não chegou a isso, mas me ordenou que revirasse todos os bolsos, pusesse tudo em cima de uma mesa, na qual meu chaveiro recebeu mais atenção do que em sua vida toda, tirasse os sapatos, também vigorosamente inspecionados e mostrasse a carteira, gloriosamente recheada de reais. As posturas em que fui obrigado a ficar, com as mãos para o alto e o traseiro para cima, não foram as mais dignificantes em que já me vi, mas mantive a dignidade e procurei não envergonhar a Bahia. É difícil manter a dignidade com os braços levantados e a bunda empinada e apalpada, mas creio que me saí bem. E, assim, num vôo em que, quando o avião chegou a menos de 30 minutos de Washington, ninguém podia se levantar nem para fazer xixi, cheguei triunfalmente à capital do nosso Grande Irmão do Norte, na qual tampouco envergonhei nem a Bahia nem vocês, numa mesa-redonda (aliás, painel, que é como se diz modernamente) da qual Sônia Braga fazia parte e me deu diversos beijos na bochecha. Pois é: vocês podem nunca ter sido cheirados por Snoopy nem ter tido a bunda apalpada em público sem sapatos, mas, em compensação, ninguém aí tomou beijinhos da Sônia Braga na bochecha, estão pensando o quê?